A Teoria da Dependência surgiu na tentativa de analisar as economias latino-americanas e suas relações com o resto do mundo. Ela analisa o processo de integração dos países periféricos no capitalismo internacional, enfatizando os problemas que esse processo traz para o desenvolvimento.
A Teoria da Dependência tem sido considerada como “a maior contribuição da América Latina para as ciências sociais”1, uma vez que uma perspectiva latino-americana foi usada para entender a questão do desenvolvimento latino-americano. Assim, é importante compreender essa escola teórica devido aos seus profundos impactos na história do pensamento social e do desenvolvimento internacional na América Latina.
Este texto teve como objetivo discutir a Teoria da Dependência e seus impactos na América Latina, argumentando que essa escola teve importância fundamental para o pensamento econômico latino-americano, mas não está isenta de críticas. Após a introdução, discutiu-se o surgimento da Teoria da Dependência, analisando seus fundamentos, seus principais autores e seus aspectos. Em seguida, a autora identificou os impactos dessa teoria no desenvolvimento internacional – teorias e políticas – na América Latina, utilizando o caso do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) para entender como um dos principais pensadores desta teoria usou seu poder para praticar suas ideias. Após o estudo de caso, algumas críticas e debates relacionados à Teoria da Dependência foram levantados para uma compreensão mais profunda da teoria. Por fim, foram apresentadas as reflexões finais, nas quais a autora concluiu que a Teoria da Dependência teve um impacto profundo na história latino-americana, mas as críticas que recebeu levaram à sua desgraça.
O surgimento da teoria
A Teoria da Dependência surgiu na América Latina entre as décadas de 1950 e 60, representando um esforço crítico para compreender os novos aspectos e limites do desenvolvimento econômico na região. Isso porque, após a crise econômica de 1929, os países latino-americanos começaram a orientar suas economias para a industrialização, buscando substituir as importações de produtos dos países centrais. O economista brasileiro – e um dos maiores nomes da teoria da dependência – Theotônio dos Santos aponta em seu livro, “Teoria da dependência: balanços e perspectivas” (2002), que o desenvolvimento iniciado no período citado foi inserido em uma hegemonia econômica global liderada por forças imperialistas que, mesmo em crise, ainda tinham muito poder no mundo. Assim, a Teoria da Dependência defende que o sistema político-econômico global é essencial para a compreensão das unidades nacionais e regionais, com as economias dos países periféricos condicionadas pelo desenvolvimento dos países centrais.2
Além da crise de 1929, outros antecedentes também são importantes para entender o surgimento da teoria. Blomström e Hettne (1984) argumentam que a crítica nacionalista do imperialismo eurocêntrico e da economia neoclássica, liderada principalmente por Raul Prebisch e pela Comissão Econômica da América Latina (CEPAL) da ONU, influenciou o surgimento da teoria. A CEPAL foi fundada em 1948 com o objetivo de refletir sobre a realidade socioeconômica da América Latina e defender o projeto de desenvolvimento nacional por meio da industrialização com o apoio da burguesia. A industrialização foi entendida como um “elemento vinculativo e articulador do desenvolvimento, progresso, modernidade, civilização e democracia”.3 Os estudiosos da CEPAL, chamados de estruturalistas, argumentaram que o subdesenvolvimento da América Latina estava diretamente relacionado aos interesses do “centro imperial”, que buscava uma fonte de produtos agrícolas e matérias-primas na região, desencorajando, assim, a industrialização.4 No entanto, após os diversos golpes civil-militares ocorridos na América Latina na década de 1960, a perspectiva estruturalista começou a receber críticas de diferentes segmentos, inclusive de pesquisadores de esquerda. Foi a partir desse contexto que se iniciou a criação da Teoria da Dependência.
Blomström e Hettne (1984) em seu trabalho trazem um resumo das ideias centrais da escola da Dependência. É importante ressaltar que essas ideias não são aceitas por todos os aspectos da escola, pois o movimento não era homogêneo, mas essa foi uma tentativa dos autores de facilitar a compreensão dos elementos centrais da teoria. Eles são:
- O subdesenvolvimento e a expansão dos países industrializados estão direta e estreitamente relacionados.
- Desenvolvimento e subdesenvolvimento são características distintas de um mesmo processo econômico.
- O subdesenvolvimento não deve ser considerado como um primeiro passo no processo de desenvolvimento econômico.
- A dependência não é apenas um fenômeno externo, ela também está presente nas estruturas internas – sociais, ideológicas e políticas – dos países periféricos.
Considerando as ideias acima, é importante entender o conceito de subdesenvolvimento a partir da perspectiva dos dependentistas para obter uma compreensão mais profunda da teoria. A perspectiva de Celso Furtado, um dos grandes teóricos dessa escola, é usada aqui. Em seu livro “O Mito do Desenvolvimento Econômico” (1974), Furtado explica que o subdesenvolvimento é resultado do processo de industrialização global iniciado com a Revolução Industrial. O primeiro tem origem no aumento da produtividade do trabalho gerado pela realocação de recursos para obter vantagens comparativas no comércio internacional. O fator decisivo para a distribuição do rendimento nas economias subdesenvolvidas é a pressão criada pelo processo de modernização. Esta tentativa de reproduzir os padrões de consumo dos países centrais reflete um processo de dominação cultural dos países desenvolvidos nos países periféricos. O fator decisivo para a dependência da periferia em relação ao centro é, portanto, o fato de que os países subdesenvolvidos permanecem satélites culturais dos países desenvolvidos e têm um processo de acumulação de capital muito menor do que estes últimos. O fenômeno da dependência começa, então, com a imposição externa de padrões de consumo que só podem ser sustentados por meio da geração de excedentes no comércio exterior.
Três vertentes principais da Teoria da Dependência podem ser distinguidas5:
- Crítica estruturalista: teóricos ligados à CEPAL fizeram análises críticas das explicações convencionais do desenvolvimento. Nesse grupo, destacam-se autores como Oswaldo Sunkel, Celso Furtado e Raul Prebisch.
- Corrente neomarxista: surgiu em meados da década de 1960, usando o materialismo histórico-dialético de Marx para criticar as perspectivas tradicionais do desenvolvimento, criticando também as análises da corrente anterior. Esta corrente se baseia, principalmente, nos trabalhos de Theotônio dos Santos, Vânia Bambirra e Rui Mauro Marini, e de outros pesquisadores do Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile. André Günter Frank, Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto também podem ser considerados como parte dessa corrente, embora existam diferenças entre suas perspectivas. Por exemplo, Cardoso e Faletto se encaixam “em uma corrente marxista mais ortodoxa por sua aceitação do papel positivo do desenvolvimento capitalista e da impossibilidade ou não necessidade do socialismo para alcançar o desenvolvimento”.6
- Consumo: esta é a fase de descoberta desta teoria nos países centrais. Os autores dessa corrente também diferem em suas perspectivas, alguns utilizando apenas o conceito de dependência, outros considerando a dependência apenas como um fator externo.7 Pode-se citar autores como Guy F. Erb, Robert Pacckenham, David Ray, Samir Amin, Walter Rodney, Arghiri Emmanuel e Keith Griffin.
Os impactos na América Latina
Dada a expansão da Teoria da Dependência e os diversos debates em torno dela, é pertinente compreender sua influência nas políticas e teorias internacionais de desenvolvimento na América Latina.
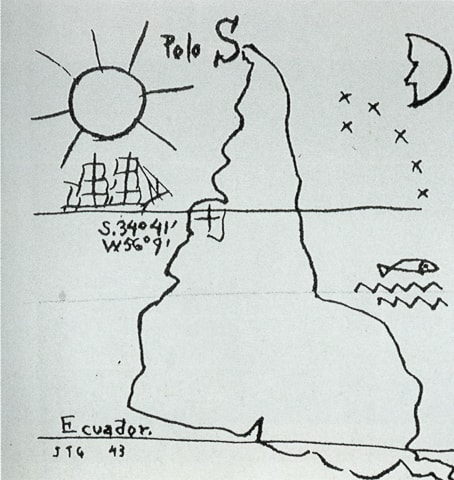
A Teoria da Dependência foi a primeira contribuição dos países periféricos para o estudo do desenvolvimento e forneceu importantes ferramentas conceituais para a compreensão do caso latino-americano. Além disso, foi a primeira teoria na região que superou barreiras geográficas e influenciou o ambiente acadêmico dos países desenvolvidos8. A Teoria da Dependência provocou um reordenamento das questões das ciências sociais na América Latina, trazendo novas preocupações sociais para a análise socioeconômica e novas opções metodológicas inspiradas na fundamentação teórica dos pesquisadores dessa escola9.
O acúmulo de novas propostas metodológicas na América Latina…
“refletiu a crescente densidade de seu pensamento social, que foi além da simples aplicação de reflexões, metodologias ou propostas científicas importadas de países centrais para abrir um campo teórico próprio, com sua própria metodologia, seu tema identitário e seu caminho para uma práxis mais realista”. (dos SANTOS, 2002, p. 24).
Um exemplo dessa influência foi a criação da Teoria do Sistema Mundial, que Theotônio dos Santos (2002) e vários outros autores consideram uma evolução da escola da Dependência.
No entanto, não foi apenas no campo acadêmico que a Teoria da Dependência impactou a América Latina. Desde o seu início, a teoria foi influenciada pelo cenário político da região, pois a década de 1960 representou uma época em que os movimentos revolucionários de esquerda haviam sofrido uma derrota momentânea e convergiam principalmente no Chile para reunir forças para uma nova ofensiva10. Em 1964, o golpe militar no Brasil instaurou uma violenta ditadura, na qual vários pensadores de esquerda foram exilados, como Theotônio dos Santos, Enzo Faletto e Fernando Henrique Cardoso. Estes acabaram se encontrando no Chile e o país se tornou um dos mais importantes centros de resistência latino-americana contra as ditaduras11. Foi nesse contexto de revolução que a Teoria da Dependência foi criada.
Nesse sentido, a teoria influenciou significativamente o desenho do programa Unidade Popular do Chile (UP), a coalizão partidária que governou o Chile entre 1970-73 sob a liderança do presidente Salvador Allende. A UP pretendia alcançar o eixo básico da dominação oligárquico-imperialista e avançar para o socialismo, através da reforma agrária, nacionalização das grandes empresas monopolistas na indústria, mineração, etc.
Desta forma, a UP tentou na prática concretizar a concepção que havia sido demonstrada pela revolução cubana e confirmada pela pesquisa teórica e empírica sobre o capitalismo dependente: que o imperialismo era um elemento constitutivo interno do sistema de dominação e que, para realizar uma política consistente de libertação nacional e social, era necessário ir além dele, avançando para o socialismo.12
A UP conseguiu nacionalizar a mineração, mas sofreu um golpe militar em 1973, antes de ser capaz de implementar plenamente seu projeto nos caminhos do socialismo.
Além do Chile, a Teoria da Dependência influenciou vários programas revolucionários em toda a América Latina, como a Teologia da Libertação no Peru. No entanto, aqui será dado foco aos impactos dessa teoria para o Governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) no Brasil (1995-2002).
O Governo de FHC e a Teoria da Dependência
De acordo com Sanchez (2003), a publicação da obra de Cardoso e Faletto, “Dependência e Desenvolvimento na América Latina”, estabeleceu as bases para o aspecto histórico-estrutural da escola da Dependência. “Cardoso liderou uma nova onda de dependentistas para os quais as relações de dependência poderiam muito bem levar ao desenvolvimento – o que eles chamaram de “desenvolvimento dependente associado”. (SANCHEZ, 2003, p. 38).
FHC se distanciou das ideias revolucionárias dos neomarxistas, que acreditavam que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento fazem parte do mesmo processo histórico de acumulação capitalista. Cardoso, no entanto, acreditava que desenvolvimento e subdesenvolvimento eram realidades, embora ligadas pela mesma estrutura capitalista, distinta e oposta. Para Cardoso, o capitalismo não tinha fronteiras e cada país deveria desempenhar um papel específico. Nessa perspectiva, ele discordou do postulado de que a dependência só traz prejuízos aos países periféricos. FHC considerou que era impossível para um país se desenvolver de forma autônoma13.
“[…] FHC atribuiu a responsabilidade pelo subdesenvolvimento latino-americano mais às elites locais do que à capacidade dos países centrais de criar obstáculos ao desenvolvimento da periferia capitalista”. (FERREIRA, 2016, p. 477).
Para alcançar o desenvolvimento, então, os países periféricos deveriam aprofundar suas relações com o mercado externo, dando poder de decisão aos centros do capitalismo internacional e às corporações privadas, e criando políticas para incentivar a instalação de empresas multinacionais14.
Cardoso também tinha uma atitude crítica em relação à figura do Estado protecionista e regulador, o que o tornava uma das pessoas mais influentes do país tanto na esfera acadêmica quanto na política15. Assim, FHC ocupou diversos cargos na política brasileira e tornou-se Presidente da República em 1995, cargo que ocupou até 2002.
Em consonância com suas ideias difundidas desde 1960, quando assumiu a presidência, FHC introduziu algumas mudanças na economia brasileira para criar melhores condições para a entrada de capital internacional, e até adotou algumas medidas neoliberais que considerou necessárias para modernizar o Estado e promover o desenvolvimento dependente. Estas incluíam medidas como a estabilização da moeda, a privatização, a redução das barreiras fiscais às importações, a desregulamentação das relações de trabalho, a abertura económica e a redução do papel regulador do Estado na economia16.
Mesmo permanecendo fiel ao seu projeto dependentista, FHC não conseguiu alcançar o desenvolvimento econômico que esperava da implementação de sua teoria. Isso porque, ao subordinar o país à economia global, Cardoso reforçou a tendência especulativa do capital operando no Brasil e também aumentou a concentração de renda, o déficit público e “uma prolongada crise/instabilidade financeira resultante dos interesses agressivos do capital especulativo parasitário” (FERREIRA, 2016, p. 486).
Muitos criticaram a tentativa de Cardoso de implementar a Teoria da Dependência em seu governo, pois ela já havia perdido sua credibilidade no mundo acadêmico, e os erros do governo FHC só pioraram a imagem da escola.
As críticas
As críticas à Teoria da Dependência ganharam força em meados da década de 1970, vindas até mesmo de autores latino-americanos. Enrique Semo, em 1975, apresenta em “La Crisis Actual del Capitalismo”, uma crítica baseada no conceito de interdependência como tendência da economia internacional. Outra crítica feita foi a de incluir o conceito de autonomia econômica na definição de desenvolvimento. Sanchez (2003, p. 35) argumenta que, se um país subdesenvolvido é estruturalmente dependente e que o que caracterizaria um país desenvolvido seria necessariamente a autonomia econômica, então “a prosperidade econômica é inatingível por definição”. Além disso, o autor afirma que os dependentistas não trazem propostas para desafios econômicos como melhorar a produtividade e o crescimento econômico, combater as desigualdades e diversificar as exportações.
A escola da Dependência recebeu essas e várias outras críticas. Assim, alguns autores se mobilizaram para elaborar contra-argumentos. Vania Bambirra escreveu, em 1978, o livro “Teoria de la Dependencia: una anticrítica”, para responder às principais críticas sofridas pela escola. Bambirra mostra que várias dessas críticas tinham interpretações errôneas, análises superficiais e eram atribuídas a posições dependentistas que nunca foram defendidas por eles. Semo, em 1975 afirma que muitos países do terceiro mundo estariam se desenvolvendo ao longo de linhas capitalistas e aumentando sua influência internacional, usando os países da OPEP como exemplo. Bambirra, em sua análise, concorda com a Semo quanto à capacidade de manobra diante do imperialismo que esses países petrolíferos ganharam, mas afirma que a Semo não traz respostas sobre quem controlaria os investimentos nesses países.
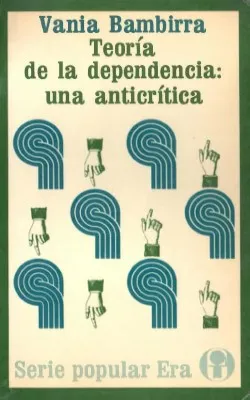
Segundo Bambirra, grande parte dos novos investimentos na indústria petrolífera nos países da OPEP era controlada diretamente por grandes corporações multinacionais, o que perpetuaria os modelos de capitalismo dependente. “Portanto, parece absolutamente utópico pensar em uma mudança substancial nas relações de dependência e sua substituição por relações de interdependência.” (BAMBIRRA, 1978, p. 97).
No entanto, apesar das tentativas dos dependentistas de rebater as críticas, a teoria continuou a decair, especialmente após a queda dos regimes socialistas. Nessa época, o marxismo foi invalidado como paradigma teórico porque foi o fundamento ideológico-intelectual desses regimes, o que levou à deslegitimação da Teoria da Dependência:
“porque a experiência com o ‘socialismo real’ provou ser um fracasso absoluto, seus fundamentos intelectuais marxistas também foram amplamente considerados fundamentalmente falhos. A dependência, em seu status de teoria aliada, sofreu o mesmo destino”. (SANCHEZ, 2003, p. 40)
Um exemplo disso é que em ‘O Fim da História’, Fukuyama dedica um capítulo à Teoria da Dependência, chamando-a de inimigo que deve ser destruído para que o capitalismo e o liberalismo alcancem sua vitória final no mundo17.
Esta coluna buscou compreender as origens da Teoria da Dependência, seus fundamentos, principais aspectos e influências no desenvolvimento internacional. Como visto ao longo do texto, a teoria tem o desenvolvimento como objeto e analisa criticamente as relações entre os países da periferia e os do centro. No entanto, esta escola não é homogênea; produziu diferentes correntes teóricas e foi alvo de várias críticas e debates.
O estudo de caso do governo FHC no Brasil foi escolhido para entender como um dos grandes nomes da Teoria da Dependência usou sua influência como presidente para colocar suas ideias em prática, pois na época em que FHC se tornou presidente, a Teoria da Dependência já havia sofrido várias críticas. Ao analisar seu governo, conclui-se que, ao contrário do que muitos acreditam, Cardoso não rompeu com suas ideias da Teoria da Dependência para promover políticas neoliberais. Ele defendeu um projeto de desenvolvimento dependente associado e manteve-se fiel à sua teoria, implementando políticas para atrair investimentos internacionais para o Brasil. No entanto, mesmo na tentativa de Cardoso de colocar a teoria em prática, descobriu-se que seu governo tinha várias falhas que contribuíram para a crítica à escola da Dependência.
Apesar das várias controvérsias em torno da teoria, no entanto, não se pode negar a influência que ela teve na América Latina. Influenciou tanto a esfera acadêmica quanto a política e é considerada uma das teorias mais importantes da América Latina.
Fontes
Bambirra, V., 1978. Teoría de la dependencia: una anticrítica. psicol. México: Era Ediciones. Disponível em: https://sociologiadeldesarrolloi.files.wordpress.com/2014/11/104250818-teoria-de-la-dependencia-una-anticritica-vania-bambirra.pdf [Acesso em: 05 de janeiro de 2023].
Blomström, M. e Hettne, B., 1984. Teoria do Desenvolvimento em Transição: O Debate sobre a Dependência e Além: Respostas do Terceiro Mundo. Livros Zed.
Cardoso, F.H. e Faletto, E., 1970. Dependência e desenvolvimento na América Latina. Biblioteca de ciências sociais. Rio de Janeiro: Zahar.
Dos Santos, T., 2002. Teoria da dependência: Balanço e perspectivas. psicol. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5499595/mod_resource/content/1/Theot%C3%B4nio%20dos%20Santos%20-%20A%20teoria%20da%20depend%C3%AAncia%20-%20Balan%C3%A7os%20e%20perspectivas.pdf [Acessado em 12 de dezembro de 2022].
Ferreira, R.L., 2016. Não esqueçam o que ele escreveu: o sociólogo Fernando Henrique Cardoso e a (prática da) Teoria da Dependência. Temporalidades [Online], 8(1), pp.469–486. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/temporalidades/article/view/5693 [Acessado em 2 de janeiro de 2023].
Furtado, C., 1974. O Mito do Desenvolvimento Econômico. Rio de janeiro: Paz e Terra.
Gonçalves, R.S., 2018. Teoria e prática em Fernando Henrique Cardoso: da nacionalização do marxismo ao pragmatismo político (1958-1994). São Paulo: Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.11606/T.8.2018.tde-29102018-161356 [Acessado em 10 de dezembro de 2022].
Sanchez, O., 2003. A ascensão e queda do movimento de dependência: ele informa o subdesenvolvimento hoje?. psicol. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 14(2). Disponível em: https://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/893 [Acesso em: 29 de dezembro de 2022].
Semo, E., 1975. La crisis actual del capitalismo [Online]. 1. ed. Economía. México: Ediciones de Cultura Popular. Disponível em: https://catalogtest.lib.uchicago.edu/vufind/Record/91922 [Acessado em 7 de janeiro de 2023].
Silva, G.J.C., 2008. A teoria da dependência: reflexões sobre uma teoria latino-americana. Hegemonia: Revista de Ciências Sociais [Online]. Disponível em: https://doi.org/10.47695/hegemonia.vi3.33 [Acessado em 20 de dezembro de 2022].
Endnotes
- (Sanchez, 2003, p. 31) ↩︎
- (Silva, 2008). ↩︎
- (Ferreira, 2016, p. 472). ↩︎
- (Ferreira, 2016) ↩︎
- (Silva, 2008) ↩︎
- (Dos Santos, 2002, p. 19) ↩︎
- (Dos Santos, 2002, p. 19) ↩︎
- (Silva, 2008) ↩︎
- (Dos Santos, 2002) ↩︎
- (Bambirra, 1978) ↩︎
- (Bambirra, 1978) ↩︎
- (Bambirra, 1978, p. 24). ↩︎
- (Cardoso; Faletto, 1970) ↩︎
- (Ferreira, 2016) ↩︎
- (Ferreira, 2016) ↩︎
- (Ferreira, 2016) ↩︎
- (Dos Santos, 2002) ↩︎



