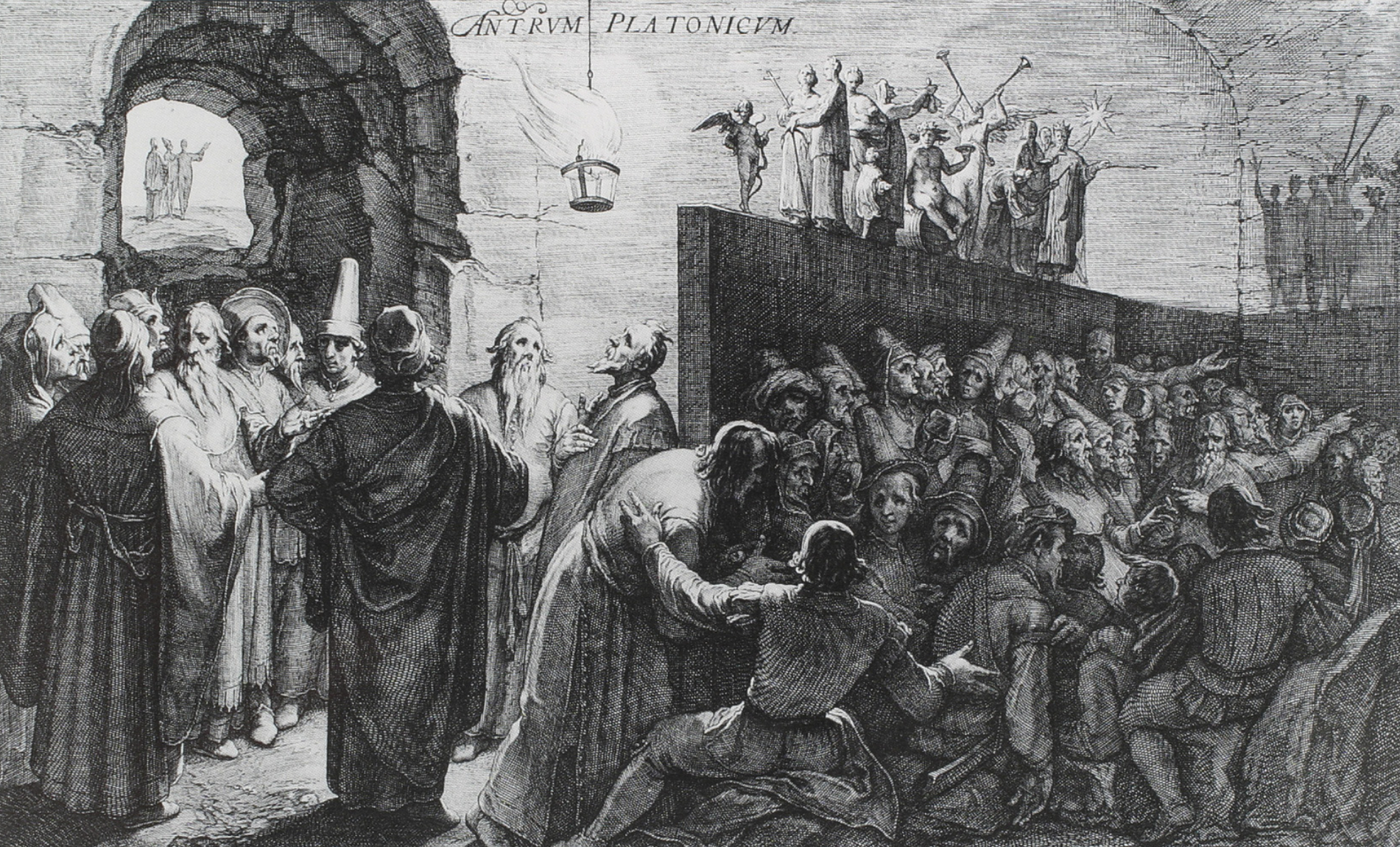Em diversos setores midiáticos do Brasil, jornalistas criaram e perpetuam a falsa diferenciação entre decisões “políticas” e “econômicas”, a fim de mascarar o viés de suas opiniões políticas.
Para aqueles que assistem (ou leem) os noticiários no Brasil, não devem causar estranheza ler (ou ouvir) os termos “decisão política” ou “decisão econômica”. O tarifaço de Trump, por exemplo, é constantemente descrito como um dos maiores exemplos de “decisão política”, que visa apenas seguir os interesses individualistas do atual residente da Casa Branca. Neste caso, vemos manchetes como na CNN Brasil explicando que “Decisão de Trump tem inclinação política, diz economista“1.
Durante os anos do governo Bolsonaro, essas terminologias foram usadas com bastante afinco por jornalistas que dividiam o governo em duas grandes alas: uma econômica e uma política. À época, o chefe-mor da ala econômica era Paulo Guedes, o super-ministro da economia. Do outro, havia um conglomerado de políticos “profissionais”, muitos do chamado “Centrão”. Assim, era possível ler que, por exemplo, “Guedes tem sido pressionado a aumentar os gastos com investimentos nos próximos anos pela ala política do governo“2. Constantemente, os avanços econômicos prometidos pela campanha de cunho liberal de Jair Bolsonaro eram freados ou interrompidos por causa da chamada “ala política” que não permitia que a “ala econômica” fizesse seu trabalho.
Essas alas continuam vivas no novo governo Lula. O comentarista da Globo, Gerson Camarotti, por exemplo, escreveu uma coluna afirmando que o recuo na decisão de aumentar o Imposto sobre Transações Financeiras (IOF) era uma clara evidência da cisão entre “a ala política e econômica” do governo Lula3. Neste debate, a dita ala econômica ainda é referenciada com o uso do sinônimo “decisão técnica“, o que lhe diferencia ainda mais da decisão política (exposta em uma luz menos simpática).
Apesar da normalização desse vocabulário na mídia tradicional, para um cientista político como eu, causa-me estranheza a constante perpetuação da diferença entre “política” e “economia”, em um contexto prático como o do governo de um país. Mais ainda, ao se atentar à retórica usada pelos jornalistas, quando tratando das ditas “ala política” e “econômica”, dos adjetivos e sinônimos utilizados para as ações de cada uma, é ainda mais intrigante a percepção de que esses termos são, na prática, utilizados para se diferenciar entre um grupo que tem planos bem arquitetados, pensados, refletidos, técnicos, ou, simplesmente, “que funcionam” (leia-se, a ala econômica) e um outro que se afeta pela opinião pública (ou a rechaça), mais emotivo, menos racional, ideológico, ou, simplesmente, “que não funciona” (leia-se, a ala política).
Eu gostaria de perguntar àqueles que escutam essa retórica se também não lhes causa estranheza essa dicotomia, levando em consideração que, na prática, fala-se da ação de pessoas que ocupam cargos políticos, tendo sido pessoas eleitas ou apontadas diretamente para executar políticas de governo (baseadas em pautas definidas durante ou após suas eleições).
À máxima de que “tudo é política“, há aqueles que respondem com “se tudo é política, nada é política”, o que é um pensamento justo. Mas especificamente, em se tratando de pessoas políticas, não seria de se esperar que elas estivessem fazendo… política? Aliás, não é o esperado em sistemas democráticos-liberais que as pessoas eleitas pelo voto popular sigam a vontade popular ou, ao menos, sigam o plano proposto às eleitoras e eleitores no momento do pleito eleitoral? Afinal, o termo “política econômica” não tem exatamente a junção de ambos os campos (político e econômico)?
Os campos científicos são divididos mais universalmente entre as chamadas “ciências exatas” e “ciências sociais”. Ou ainda, as ditas “ciências duras” (em inglês, “hard sciences“) e as “ciências brandas” (em inglês, “soft sciences“), que representam as exatas e as sociais respectivamente. Os termos fazem referência à ideia de que os campos da matemática, física ou biologia têm um rigor científico e, portanto, são mais precisos (para alguns, mesmo infalíveis) e, por outro lado, que campos da história, filosofia e política, via de regra, não têm tanto rigor científico, tampouco podem ser precisos (e, portanto, tendem a ser mais falíveis).
Em minhas divagações sobre a divisão das ciências no campo acadêmico, é-me constante o pensamento de quão “exatas” algumas ciências são. Durante a pandemia, como foi globalmente visto, até que se chegasse a um determinado consenso sobre os melhores métodos, muitas divergências aconteceram (e não só médicas, mas entre acadêmicos). Além disso, mesmo ao chegar ao consenso mais geral (como que cloroquina não curava Covid ou a reafirmação que antibiótico não mata vírus), ainda havia os casos inexplicáveis e fora das curvas de reações adversas à vacinação ou a determinadas medicações ou mesmo do próprio desenvolvimento da doença em diferentes pessoas que tinham diferentes condições físicas. Na física, teorias são propostas para fazer sentido de coisas que, seguindo as teorias já expostas, não fazem sentido (como é o caso da matéria escura e, por um bom tempo, dos próprios buracos negros). A própria matemática só faz sentido dentro de seus axiomas que são pressupostos, o que faz com que “verdades matemáticas” não possam ser interpretadas, necessariamente, como “verdades absolutas”.
No mesmo mote, as ciências humanas (dentre as quais também se encontra a economia, diga-se de passagem) são tão exatas quanto. Há consensos e há dissensos. Teorias são reformuladas com base em novas evidências e nenhuma “verdade” é absoluta. Logo, por mais popular que seja (mesmo entre acadêmicos), a diferenciação (e muitas vezes a hierarquização) dos campos científicos entre aqueles que são “exatos” (logo, infalíveis) e aqueles que são “imprecisos” (logo, mais propensos a falhar) é uma ilusão.
Estabelecendo esse ponto de partida comum das ciências, seria de se esperar que a economia, em suas diversas formas (pesquisa, decisão, opinião), fosse considerada também como algo passível de ser reavaliado. Mas, talvez dito de uma maneira melhor, não fosse visto como algo essencialmente “melhor” ou “mais preciso”. Sobretudo quando ela é conduzida por figuras políticas.
Surge então o questionamento: a quem interessa diferenciar o que não é diferenciável? Ou, a quem interessa vender a ideia de que decisões econômicas são mais “certas” que (outras) decisões “políticas”?
A simples elevação das ditas “decisões políticas” ao nível de algo “técnico”, “preciso” e, muitas vezes, “bom” é uma tentativa de mascarar um viés político que está na origem da formação de opinião dos jornalistas (ou de suas redações) em questão. Ao diferenciar uma ala “econômica” de uma “política” no governo, o viés da redação dos veículos de informação é denunciado de uma maneira velada. Pode-se perceber que as medidas propostas pelas ditas “alas econômicas”, ou mesmo as “decisões econômicas”, alinham-se àquilo que é normalmente visto como positivo por um viés econômico em comum: aquele de cunho neoliberal (que, diga-se de passagem, é uma ideologia político-econômica).
Rapidamente, o que se entende como pensamento neoliberal é aquilo que defende os livres mercados, uma intervenção estatal mínima na economia e a dita liberdade econômica. Mais ainda, associa-se frequentemente a políticas (!) de desregulamentação, privatização e diminuição de despesas (ou “gastos”) com o estado de bem-estar social.
Quando decisões políticas vão nessa direção, elas são ditas como “técnicas”. Quando há figuras no governo que têm o interesse de seguir esse tipo de política, mas são impedidos ou influenciados a seguir uma outra direção econômica, então diz-se que houve uma “interferência da ala política”. Na verdade, mesmo o termo “política”, neste contexto, é usado com o significado de sua corruptela: “politicagem“. E qual a diferença entre política e politicagem? Podemos usar uma simples entrada de dicionário para isso. De acordo com o Michaelis, “política” refere-se, de maneira mais abrangente, à “arte ou ciência de governar”4. “Politicagem“, por outro lado, refere-se à “política de baixo nível, voltada para interesses pessoais”5.
Talvez uma diferenciação entre decisões políticas e politiqueiras (referente àqueles que se envolvem em politicagem) fosse mais bem apropriada ou mais objetiva (já que “neutro” não é um adjetivo possível quando se trata de reportar fatos, sobretudo políticos). No entanto, associar o termo “política” à sua corruptela parece fazer parte de uma agenda, de fato, política da maior parte das mídias tradicionais. E isso, tem um outro motivo.
Certa vez, um amigo alemão me perguntou como era o cenário midiático no Brasil. Partindo de sua realidade, em que a mídia tradicional é estatal, independente de influências políticas (pois é financiada diretamente pelos impostos pagos mensalmente pelo contribuinte alemão) e, normalmente, objetiva até demais (no sentido de passar apenas os fatos, às vezes sem nem mesmo dar contexto), interessava ao amigo alemão saber se no Brasil os jornais mais conhecidos eram, também, públicos.
Mas, não é que não haja conglomerados de mídia na Alemanha. Muito pelo contrário, há vários. Um dos veículos mais disseminados na Alemanha é o tabloide chamado “Bild” da empresa Axel Springer AG que domina pouco menos de 7% de toda a mídia alemã.
Esses dados são de fácil acesso na Alemanha graças à chamada “Comissão para a Determinação da Concentração no Setor dos Meios de Comunicação” (ou KEK, em alemão). A KEK é uma organização do Estado alemão (que não tem a ver com o governo) que tem por missão “garantir a diversidade de opiniões na televisão privada”, além de “assegurar a transparência quanto às relações de propriedade do mercado televisivo”6. Dado seu histórico de regimes autoritários no passado, o Estado alemão tem diversas organizações independentes que monitoram diversos aspectos da sociedade a fim de evitar que ameaças à democracia surjam e se alastrem (por mais que esses mecanismos não sejam infalíveis). A empresa que mais concentra a mídia alemã, porém, não é esta, mas uma chamada Bertelsmann (dona do canal televisivo “RTL”) que controla pouco mais de 10% da mídia no país. Neste sentido, a pluralidade de mídias privadas na Alemanha é consideravelmente grande. Para além disso, a sociedade alemã entende que publicações como “Bild” não são “sérias”. Uma das fontes de notícias mais críveis e tidas como sérias no país ainda é o chamado Tagesschau, que é um jornal produzido pela ARD, uma associação de emissoras de radiodifusão pública na Alemanha.
No Brasil, porém, a realidade é bem diferente. Por um lado, há organismos estatais que visam à proteção do mercado, a fim de se evitarem cartéis ou monopólios, tais como o CADE ou a própria ANATEL, para garantir licenças às mídias. No entanto, esses organismos agem de maneira reativa e não preventiva, como a KEK alemã. Tampouco divulgam dados anuais a fim de informar a população sobre a concentração midiática.
Temos, ainda, uma televisão pública: a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), por exemplo, responsável pelo canal “TV Brasil”. Por mais que esteja em processo de se tornar mais relevante, figurando entre as 10 maiores audiências do país em 2020 e chegando à 5ª posição em 20247, ela continua não sendo a mais relevante. Ou ao menos não como uma das mídias que é mais utilizada como fonte pela população.
Assim, é necessário recorrer a outros meios para ter dados sobre o panorama midiático no Brasil. O “Media Ownership Monitor” (MOM ou Monitor de Propriedade de Mídias, em uma tradução livre) tem um portal dedicado à concentração midiática no país. Segundo a análise feita por este organismo independente, o sistema brasileiro apresenta uma alta concentração de veículos de comunicação, falta de transparência e uma alta interferência de vieses econômicos, políticos e religiosos8.
Esse cenário indica um “alerta vermelho”, segundo o organismo, representando riscos à pluralidade na mídia brasileira. Segundo o relatório, “os quatro principais grupos de mídia concentram uma audiência nacional exorbitante em cada segmento analisado (TV, rádio, mídia impressa e online), ultrapassando 70% no caso da televisão aberta, meio de comunicação mais consumido no país“9. A Globo, a primeira colocada, é responsável por uma audiência que ultrapassa os outros quatro maiores grupos, atingindo cerca de 100 milhões de habitantes ou metade da população do país. A título de comparação, os quatro maiores grupos de mídia na Alemanha controlam cerca de 45,5% do mercado midiático (sendo que 20% disso é apenas das mídias estatais independentes)10.
A despeito do que muitos propagam atualmente, o viés das mídias preponderantes no país não é de esquerda, mas sim um que se associa aos princípios neoliberais (de centro-direita à direita no espectro político). Neste sentido, estão dentro do campo democrático, mas, na maior parte do tempo, não necessariamente a favor de avanços sociais que pressuponham um Estado forte (daí a terminologia mais positiva para medidas políticas cunho neoliberal e menos positivas para aquelas que dão prioridade à justiça econômico-social). No entanto, um dos maiores conglomerados de mídia do Brasil, o Grupo Record, adiciona mais um viés, nem sempre completamente consonante ao dos demais. Isso porque ele é responsável pela forte disseminação de uma ideologia religiosa por meio de suas mídias (que não se apresenta tão explicitamente nas demais).
Aqui se deve entender que não estou criticando per se o uso de uma plataforma privada para a disseminação da ideologia que os proprietários desses meios de comunicação adotem para si. Tampouco para a propriedade privada de canais midiáticos. Lutar por aquilo que se acha correto, dentro dos limites da Constituição, do estado de direito e do regime democrático, é legítimo e válido. No entanto, o ponto levantado é que as mídias brasileiras são controladas por poucos (grandes) conglomerados de mídia que têm vieses político-sociais (nesta colocação encontra-se também o econômico) semelhantes, o que enviesa a mídia brasileira majoritariamente para um dos lados do debate político (em detrimento do outro).
Portanto, a falsa dicotomia entre aquilo que é “político” e o que é “econômico”, ou entre o que tem origem em “interesses” e na “técnica”, ou entre o “emocional” e o “racional”, não é nada mais nada menos que a consequência de uma alarmante concentração de mídia no Brasil que, dado seu gigantesco alcance, conseguiu vender e perpetuar um viés político como “padrão” (ou “neutro”) enquanto trata o lado oposto de maneira pejorativa, a fim de ganhar mais aceitação pública.
4 https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=política
5 https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=politicagem
6 https://www.kek-online.de/ueber-uns
8 https://brazil.mom-gmr.org/br